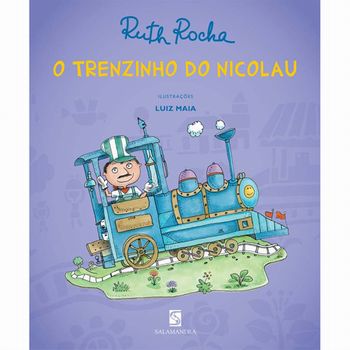Pensar nas situações de leitura para a alfabetização inicial implica pensar em situações não totalmente diferentes daquelas propostas para outras fases da escolaridade. Assim, em primeiro lugar, tentarei caracterizar tais situações no contexto escolar. Depois, abordarei mais pontualmente a idéia da necessidade de propor a diversidade de situações tanto no nível inicial como durante toda a educação básica. As situações para a alfabetização inicial não são diferentes daquelas desenvolvidas nas séries mais avançadas e é necessário que se mantenham em processo de continuidade.
Na segunda parte, sob o princípio de que toda situação didática de leitura procura ajudar a coordenar aquilo que o leitoraluno já sabe com a informação nova apresentada pelo texto e seu contexto, ressaltarei e exemplificarei quais as condições específicas que possui uma situação de leitura quando se trabalha no momento inicial da alfabetização.
Diversidade de situações
Durante toda a escolaridade, tanto no nível inicial como na educação básica, ensinar a ler significa muitas coisas:
• É propor situações que faça sentido que um adulto leitor leia para as crianças e é, também, investir mais naquelas em que as crianças tenham de ler ou interpretar por si mesmas.
• É planejar as situações nas quais essas atividades sejam "inevitáveis" mas, também, é decidir como utilizar as situações imprevistas nas quais a leitura apareça como sendo pertinente.
• É desenvolver situações nas quais ler tenha sentido (dentre outras coisas) porque estamos buscando um dado preciso, estudando um tema desconhecido, acompanhando as instruções para fazer ou consertar um aparelho, ou porque nos emociona, alegra-nos ou nos surpreende a maneira que o autor "diz" tal coisa...
• É mergulhar no mundo da ficção, da poesia, do conto e do romance; é desvendar as enciclopédias, os dicionários e todo tipo de texto temático; é interpretar os complexos jornais e até os guias de televisão, o humor gráfico ou os cartazes publicitários...
• É, às vezes, ler ou fazer ler bem rápido sem prestar atenção na precisão; outras, é se deter no mínimo detalhe; muitas vezes, é pular e reler somente certas partes ou, ao contrário, é ler com paciência toda a extensão de um texto longo.
• É, como se a diversidade até aqui enunciada não fosse suficiente, ler é, além de tudo isso, não só ler. É pensar, falar, sentir e imaginar sobre aquilo que se lê em situações como recomendar ou pedir conselhos sobre leituras, vincular algumas leituras com outras, discutir sobre o que foi lido, coincidir, confrontar, resumir, citar, parafrasear...
Felizmente, em nossa cultura, ler é uma prática diversificada: em gêneros e formatos discursivos, em suportes, em posições enunciativas, em propósitos e em modalidades de leitura. Se ensinar a ler é possibilitar que nossas crianças possam navegar com prazer e adequação nessa prática cultural, a leitura na escola jamais poderá ser "a" mas "as".
Diversidade, sem dúvida, dificilmente reconhecida quando se transforma em mecanismo que deve ser adquirido instrumentalmente no início da escolaridade, para depois dar lugar a exercícios mais ou menos estereotipados de uma aquisição que se supõe finalizada. Ainda bem que faz muito tempo que essa prática escolar deformadora está sendo revisada tanto nas salas de aula pelos professores como por escritores profissionais e pesquisadores de diferentes procedências (psico e sociolinguistas, linguistas, críticos de literatura, psicólogos e didatas). Como resultado desse movimento, algumas certezas estão surgindo de maneira convincente: não é possível ensinar a ler com um único texto, não é viável pretender controlar todo o processo de interpretação de um texto (muito menos medi-lo), não é desejável impor uma única interpretação de um texto...Em suma: quando o que se pretende é formar leitores críticos, competentes e felizes não é didaticamente adequado pretender homogeneizar leitores nem leituras.
Além desse princípio básico de diversidade, outros princípios didáticos guiam os projetos e as situações de leitura e de produção de textos. É necessário:
1) Propor problemas para as crianças para cuja solução não tenham todos os conhecimentos nem todas as estratégias para poder resolvê-los totalmente. Somente dessa maneira é que sua resolução gera a necessidade de coordenar ou dar novo significado aos conhecimentos anteriores, construir novos conhecimentos e desenvolver estratégias.
2) Organizar projetos e situações nos quais a leitura apareça contextualizada em alguma prática existente em nossa cultura.
3) Dar oportunidades para se aproximarem e transformarem interpretações diversas de um mesmo texto, retomando-as a partir das interpretações de outros, de outras leituras, outras experiências que contradigam ou enriqueçam suas interpretações iniciais.
4) Gerar situações nas quais seja necessário que as crianças explicitem suas interpretações, confrontem-nas e elaborem outras cada vez mais compartilhadas.
Sob esses princípios, a professora ou outro adulto leitor lê para as crianças ou as crianças são convidadas a ler por si mesmas com modalidades diversas, diferentes textos, diferentes propósitos...Lê-se no contexto de selecionar anedotas, poemas ou adivinhas preferidas para uma antologia com destinatário escolhido por todo o grupo. Relê-se para inserir ilustrações da maneira mais adequada em textos que não as possui, lê-se para escolher um conto que será gravado para dar de presente para as crianças da pré-escola e também, muitas vezes, lê-se para ensaiar a melhor maneira de oralizá-lo na gravação. Obras e roteiros são selecionados e lidos em voz alta em sessões de leitura de textos. Também se seleciona e se lê para dar sessões de leitura para as crianças pequenas. Lê-se acompanhando instruções para montar um brinquedo, para fazer um truque de mágica ou para brincar de alguma coisa.
Lê-se para estudar: para se ter uma ideia global do tema ou localizar a resposta para uma pergunta específica ou buscar o parágrafo ou a frase que servem para justificar a própria opinião ou se lê para resumir... É necessário ressaltar que a diversidade de leituras no contexto escolar não pode nem deve ficar sujeita somente às propostas apresentadas pelas crianças, aos materiais que elas trazem, às situações que podem surgir. Tais demandas não atendem, necessariamente, à ampla gama de práticas sociais de leituras: ninguém pode demandar nem propor aquilo que não conhece. Quando se trata de ensinar a ler, é responsabilidade da escola garantir que a maior quantidade possível de situações e textos seja apresentada nas salas de aula para que as crianças tenham todas as oportunidades que necessitam para se transformarem em leitores críticos de nossa cultura. Continuidade também é responsabilidade da escola manter essa diversidade de situações em permanente uso. Não se aprende por partes fragmentadas que vão se acumulando até somar um todo, mas por coordenações cada vez mais extensas e profundas que dão lugar a reorganizações e ressignificações dos saberes em jogo, isto é, por aproximações sucessivas. Então, a apresentação de situações diversas sem continuidade não garante mais que certas aproximações cuja permanência e transformação progressiva não estão garantidas. A continuidade na presença de situações diversas é um princípio complementar da própria diversidade. É o princípio que garante a transformação do saber e evita sua perda por desuso A tradicional distinção escolar entre "ensinar a ler" no primeiro grau e "ler de maneira compreensiva" a partir do segundo, entre a aprendizagem de um mecanismo e o desenvolvimento da leitura propriamente dita, não está de acordo com os princípios de diversidade e de continuidade até aqui expostos. Há várias décadas o discurso da escola sobre a leitura vem sustentado que o fracasso da compreensão na leitura é um "problema concentrado na questão da primeira aprendizagem, pois não se imagina que o ato de ler possa ser outra coisa senão essa técnica que se aprende em alguns meses" nas séries inferiores .
Mas, ao contrário, se sustentamos que toda leitura é compreensão, que as crianças podem fazer interpretações dos textos desde muito pequenas, que as interpretações diversas são válidas e podem ser transformadas..., não há motivo para afirmar que existe uma divisão taxativa entre "ensinar a ler" e "ler". Essa distinção levou a omissões e deformações importantes tanto na alfabetização inicial como no processo posterior. Nas séries inferiores, o conteúdo privilegiado da leitura é a sonorização dos grafemas e suas combinações. O ensino omite todo conteúdo cultural relativo à própria prática da leitura, já que considera que sua abordagem supõe o conhecimento prévio do "código". Quando o texto aparece, é visto como suporte ou desculpa para ensinar o código. Mas, após essa etapa inicial, a deformação não desaparece mas assume outra característica: considera que os alunos já dominam as regras de combinação do "código escrito" e, portanto, "já sabem ler". Assim, "deixa-se de ler para elas (as crianças) porque são elas que devem ler sozinhas, e não só ler, mas entender (de um único jeito) mensagens escritas com vários tipos de complexidade.
Implicitamente, age como se não tivesse que continuar ensinando a ler, isto é, a interpretar as infinitas complexidades dos textos e seus contextos de produção".
Quando as crianças de 3a ou 4a série não interpretam adequadamente o enunciado de um problema matemático ou de um artigo de divulgação científica costuma-se afirmar rapidamente que não sabem ler, como se fosse um "mecanismo chave" que, uma vez adquirido, abriria as portas de qualquer texto e em qualquer circunstância. As perguntas a serem feitas nesses casos são: Qual a complexidade lingüística desse texto nessa circunstância que essas crianças ainda desconhecem? Qual a complexidade conceitual (matemática, temporal, causal...) que apresenta esse texto nessa circunstância e que põe obstáculos para a compreensão? Quais os saberes prévios cuja ausência propicia diferentes
interpretações...
Em suma, as crianças podem saber ler algumas coisas e, nós, professores, temos de continuar ensinando a ler durante toda a escolaridade.
Situações de leitura na alfabetização inicial
Argumentamos até aqui sobre a necessidade de manter a continuidade de situações diversas de leitura para garantir a possibilidade de construção de leitores autônomos e críticos. Agora, cabe e perguntar o que diferencia uma situação de leitura com leitores iniciais e aqueles que não o são. As situações de leitura na alfabetização inicial "além do propósito próprio de
toda atividade de leitura (...) "obedecem" (...) à necessidade de cumprir um propósito didático bem específico: o de conseguir que as crianças avancem na aquisição do sistema, que possam ler cada vez melhor por si mesmas..."
As crianças
Felizmente, há uma década que em nosso meio já se sabe que as crianças constroem saberes sobre a leitura antes mesmo da leitura convencional. Essas descobertas poderiam ser sintetizadas em:
• As estratégias de leitura. "O significado do texto não é totalmente determinado pelo texto em si porque o leitor coloca em jogo seus saberes em um processo no qual continuamente formula hipóteses sobre o que pode estar escrito, infere o "não escrito", antecipa o que encontrará escrito mais adiante e até pula partes que não necessita processar para compreender o todo. Um leitor, além disso, integra essas estratégias em um processo permanente de autocontrole do que vai compreendendo. Todas essas estratégias próprias de cada tipo de texto vão modelando as estratégias do leitor. (...) Também não se lê da mesma maneira quando se faz com diferentes propósitos".
"É importante destacar que essas pesquisas não foram realizadas só com leitores, no sentido convencional do termo, mas também com crianças bem pequenas. (...) Elas também desenvolvem essas estratégias diante do texto e 'lêem' fazendo interagir aquilo que sabem com as restrições impostas pêlos textos".
• A interpretação do sistema de escrita. Nos esforços por compreender "o que a escrita representa e como representa", sabe-se que crianças bem pequenas podem diferenciar a escrita de outros sistemas de representação gráfica e estabelecem as condições internas para que o que está escrito "diga" (quantidade e variedade de caracteres). Muitas crianças pensam que está escrito o nome da imagem mais importante ou do elemento do contexto que é mais significativo (hipótese do nome).
Outras, além disso, consideram aspectos quantitativos da escrita ("não deve estar dizendo pouca coisa porque tem muitas letras" ou "aqui 'sapo' onde aparece festa" e "aqui 'o conto do sapo' onde aparece A montanha estava em festa"). Algumas, as mais avançadas, consideram não só os aspectos quantitativos da escrita, mas, também, a qualidade das marcas gráficas ("não está escrito 'sapo' porque não tem a mesma de 'sapato' " ou "está escrito 'aranha' porque é igual a de 'António'").
• A linguagem que se escreve. Além disso, as crianças não têm só estratégias e saberes sobre o sistema de escrita desde muito pequenas, mas também constroem saberes sobre "a linguagem que se escreve". "Autores como Ana Teberosky, Liliana Tolchinsky, J. Harste, D. Graves, dentre outros, demonstraram que as crianças, mesmo sem saber ler e escrever de maneira convencional e desde muito cedo, produzem textos linguisticamente diferenciados (por exemplo, narrações e descrições). São capazes de produzir mensagens que possuem marcas de diferenciação entre gêneros e demonstram que a organização sintética dos textos também é diferente"8. Essas diferenciações não só se realizam ao escrever mas quando antecipam o que pode estar escrito. As aulas as situações de leitura na alfabetização inicial requerem possibilitar a coordenação entre esses saberes das crianças e as informações que o texto e a situação oferecem. A intervenção do professor é necessária para propor os problemas que possibilitem esse interjogo.
Uma das dificuldades mais comuns desse tipo de situação é que as crianças, por falta de contexto, acabam decifrando ou inventando em vez de antecipar e confirmar ou desprezar suas antecipações considerando os dados que o texto oferece. Isto é, sonorizam as letras sem conseguir obter nenhum significado ou “dizem qualquer coisa" que não é coerente nem com o texto nem com o contexto. Muitas vezes, essa dificuldade não está em uma dificuldade da criança, mas em um obstáculo introduzido pela situação didática que não oferece de maneira suficiente e adequada os elementos do contexto para que previsões possam ser feitas.
As crianças têm oportunidades de desenvolver antecipações cada vez mais ajustadas e construir estratégias para confirmar ou desprezar essas antecipações quando as situações didáticas possuem os meios para que o texto se torne previsível e possa ser explorado, fazendo a correspondência entre aquilo que se acredita (ou se sabe) que está escrito e a própria escrita. Nas salas de aula, algumas estratégias demonstraram ser coerentes com esses propósitos.
Em princípio, é necessário desenvolver a maior quantidade e qualidade possível de saberes sobre a escrita e sobre a linguagem escrita. Esse saber permitirá que as crianças façam previsões cada vez mais ajustadas. Por exemplo, em uma classe na qual são explorados diferentes materiais para obter informação, um grupo de primeira série está estudando diferentes animais do Litoral para a elaboração de um folheto explicativo. Cada equipe procura informação sobre determinado animal escolhido por todos, a professora discutiu previamente o tema durante vários dias colhendo toda a informação prévia das crianças, também assistiram a vários vídeos que ampliaram seus saberes sobre o tema.
Na aula, a professora distribui uma série de materiais escritos para cada equipe e pede às crianças que marquem onde elas acham que há informação que possa ser útil.
Esse material foi cuidadosamente selecionado: há enciclopédias gerais e de animais (com e sem informação sobre o espécime procurado), contos e poesias com figuras de animais (mas, obviamente, sem informação relevante), revistas atuais (suplementos dominicais) que têm ou não dados sobre o tema e revistas para crianças dos dois tipos e jornais (que somente em um caso tem o material solicitado). As crianças marcam e, em seguida, discutem sobre como fizeram isso. A professora lê em voz alta algumas partes dos materiais marcados pelas crianças, elas confirmam ou não a existência da informação que procuram. Ao mesmo tempo, vão anotando os dados que julgam necessários guardar para o folheto.
Nessas situações, dentre outras coisas, os alunos:
1. podem ampliar seus saberes sobre em qual tipo de texto há informação relevante sobre esse tipo de tema;
2. podem distinguir que em alguns materiais (como os contos) há figuras de animais (muitos assim antecipam), mas pouca ou nenhuma informação;
3. talvez comecem a diferenciar a estrutura sintática dos textos informativos das narrativas de ficção (que certamente conhecem muito mais);
4. podem comparar a forma "organizada e metódica" de apresentar a informação em uma enciclopédia dos comentários bem diferentes que podem ser encontrados em um suplemento dominical;
5. podem também aprender sobre as sessões dos jornais, os índices diversos e a função das ilustrações ou dos subtítulos.
Em todas essas situações, as crianças aprendem a buscar onde ler e de que maneira fazê-lo de acordo com o propósito.
Colocam em jogo suas antecipações sobre os diferentes gêneros e seus portadores e ajustam essas antecipações em função de considerar os índices fornecidos pelo texto. Quando já se conhece muito sobre o gênero que se vai ler,
explorar onde diz, como diz cada coisa...As crianças podem antecipar que no início do conto diz "Era uma vez..." porque escutaram ler vários contos, podem procurar esse trecho de escrita no início do texto, podem comparar como esse início é igual ou parecido em vários livros e, também, como existem outros que não começam com a mesma escrita embora algumas partes permaneçam iguais. Poderiam servir para os mesmos fins as fórmulas de encerramento desses contos clássicos, as construções que se repetem nos contos de estrutura repetida ou os subtítulos "habitat, alimentação, reprodução..." em uma enciclopédia de animais cujas páginas têm, todas, a mesma diagramação e foram muitas vezes lidas pela professora.
Trata-se de propor o problema de "onde diz?" algo que é previsível que diga porque já foi lido muito e já se identificou uma parte (que muitas vezes se repete a partir do oral) para depois procurar essa parte no texto. Isto é, o escrito não é previsível ou não o é em si mesmo, é o professor que o torna previsível por intermédio de situações em que é apresentado. As poesias e as cantigas, quando são memorizadas em contextos nos quais faça sentido memorizá-las (porque de tanto cantá-las se aprende ou porque vão ser recitadas em um ato público ou em uma sessão de poesia para o Dia da Família, por exemplo), podem se tornar textos que as crianças conhecem muito bem e que, ao serem colocados à disposição delas por escrito, permitem esse trabalho de irem identificando onde dizem (ou estão escritas) as partes que vão sendo oralizadas Dessa mesma maneira, como texto a ser explorado mais pontualmente, podem funcionar as agendas de trabalho semanal ditadas para a professora por todo o grupo, escritas em cartazes que ficam à disposição das crianças e consultadas (relidas) para confirmar se a tarefa que se pensa fazer é a que corresponde àquele dia.
Algumas vezes, a previsibilidade de um texto pode surgir pelo contexto verbal imediato fornecido pela professora.
Tratam-se de situações em que o professor informa sobre o "que diz" em vários enunciados do texto e propõe às crianças o problema de identificar em que parte ele aparece. Em uma publicação que já tem vários anos, era descrita uma situação que continua sendo um exemplo típico desse caso. A seguir, transcrevo textualmente o trecho da obra citada:
Um grupo de crianças de cinco anos organiza com a professora uma festa de um aniversário na sala e pede a ela que escreva "Feliz aniversário" no cartaz. Ela atende o pedido das crianças, mas, além disso, acrescenta a esse material outros que dizem "Feliz Natal" e "Feliz viagem". Informa ao grupo sobre o conteúdo dos três cartazes sem identificar a qual pertence cada um, prega-os na lousa e pergunta qual deles é o que ele pediu..
Proposta a atividade, faz-se uma discussão entre os grupos. Opiniões diversas surgem em relação à identificação da escrita "Feliz aniversário".
Andrés: Aqui (mostrando a palavra FELIZ em cada um dos três cartazes) diz "feliz, feliz, feliz..."
Professora: Porque você acha isso?
Andrés: Porque tem todas essas letras (mostrando as letras dos três cartazes), todas essas letras são "igualzinhas".
Juan Manuel: Sim! Ele tem razão: são todas iguais (surpreso).
Professora: Onde diz "Feliz aniversário"? (Burburinho generalizado em toda a sala. As crianças comentam entre si diferentes opiniões).
Patrício: Olha Claudia (para a professora), eu acho que é neste (mostra FELIZ NATAL) que diz "feliz aniversário".
Professora: Por que você acha, Patrício, que aqui diz "feliz aniversário"?
Patrício: Porque esta (mostra o N em NATAL) é o "o"...
Várias crianças: Este é o "o", o redondo (mostram O em ANIVERSÁRIO).
Professora: Algum de vocês tem o nome que comece com esta (mostra o N)?
Maximiliano: Nicolas!
Maria Elena: Natalia!
Gissela: Natalia!!!
Mauro: Do mesmo jeito que começa o da Nancy.
Nicolás: Começa com o ene, professora.
Professora: O que será que diz então?
(Alguns afirmam que diz "Natal" porque começa com a mesma letra de Natalia, outros propõem significados diferentes).
Professora: (Pede que tragam o cartaz no qual está escrito NATALIA e mostra para o grupo)
Evangelina: É igual!!!
Gissela: É mesmo, porque esta é igual a esta e esta é igual a esta (mostrando N e A em NATALIA e NATAL).
Professora: O que diz aqui? (em NATAL).
(A maioria reconhece que no primeiro cartaz está escrito "Feliz Natal" porque começa igual a Natalia, o resto afirma que está escrito "feliz aniversário").
Jorge Luis: Não, aqui (em FELIZ VIAGEM) diz "feliz aniversário".
Patrícia: Não, você não está vendo que não tem o "o"?
Andrés: Aqui, "feliz viagem" (em FELIZ VIAGEM), porque tem um "e". Olhe, via...geee...eeem (mostra o E. A opinião de Andrés é confirmada por quase todas as crianças. Reconhecem que é a mesma de Emanuel - letra E - e que diz "viagem" porque tem essa letra).
Professora: Todos estão de acordo que está escrito "feliz viagem"? (em FELIZ VIAGEM).
Todos: Sim.
Professora: Então, vamos ver se entramos em um acordo em qual desses diz "feliz aniversário", (mostra FELIZ ANIVERSÁRIO e FELIZ NATAL).
Juan: Esta é "feliz aniversário" (mostra o cartaz correspondente), porque tem o "o" (mostra a letra O).
Professora: Eu pergunto... "Feliz Natal" tem "o"?
(Várias crianças repetem em voz alta a frase, realizando diferentes tipos de separação. Finalmente, dizem que não tem "o").
Várias crianças: Não!!!
Maria Elena: "Feliz aniversário" tem. Olhe professora, "fe...liz..ani...ver..sá..río" Sim, tem "o". Aqui diz "feliz aniversário" (no cartaz de FELIZ ANIVERSÁRIO). (A maioria apóia a resposta de Maria Elena. Algumas confrontam a escrita do cartaz FELIZ ANIVERSÁRIO com a frase idêntica escrita em uma faixa, confirmando, assim, a interpretação dada).
Essa observação exemplifica a forma com que as crianças podem antecipar o significado da escrita a partir da coordenação da informação fornecida pelo adulto (sua leitura) e a informação fornecida pêlos índices qualitativos dos textos. A resolução do problema se concretiza mediante as opiniões e discussões das crianças e da intervenção da professora, que indica para favorecer a interpretação".
Nesse tipo de situação, é inevitável para as crianças considerar os aspectos quantitativos da escrita (é mais ou menos longa, tem mais ou menos letras, tem tantas partes) e os aspectos qualitativos (com qual começa, com qual termina, tem a mesma que..., tem algumas que são iguais nas três...), para coordená-los com os enunciados que conhecem que estão escritos (porque a professora informou).
Para que as crianças cheguem a ler por si mesmas necessitam elaborar hipóteses cada vez mais ajustadas sobre aquilo que estão lendo, sobre o que está escrito e como está escrito em diferentes gêneros e portadores. Ao mesmo tempo, necessitam confirmar ou rejeitar tais idéias em função dos índices que o texto e a situação fornecem.
Esses índices se tornam cada vez mais observáveis pela participação em situações nas quais alguém lê para elas ou lhes propõe tentar ler por si mesmas e nas quais a intervenção da professora colabora para que tal processo se desenvolva, para que nossas crianças se sintam poderosas e felizes porque são capazes de ler por si mesmas.
Tradução: Daisy Moraes